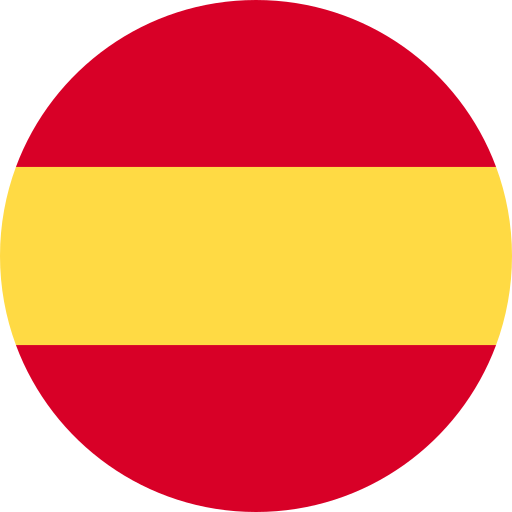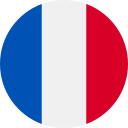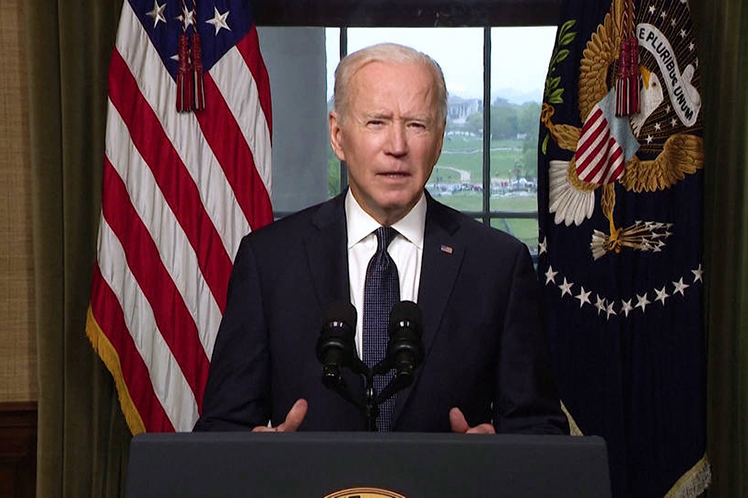O líder democrata escolheu essa data para concluir a operação de retirada por ocasião do 20ú aniversário dos atentados contra as Torres Gêmeas de Nova York e outros alvos civis, que deram a Washington um pretexto para desencadear o que chamou de sua guerra contra o terrorismo.
As operações que se desencadearam a partir daí causaram a morte de dezenas de milhares de civis, bem como a destruição de infraestrutura vital em nações como Afeganistão, Iraque, Síria e outros países, além de um custo multimilionário para os contribuintes americanos.
Na quarta-feira, Biden insistiu que a guerra no Afeganistão ‘nunca teve a intenção de ser um empreendimento multigeracional’, apesar do fato de ter durado quase 20 anos e de 2.450 soldados americanos terem morrido lá desde seu início em outubro de 2001.
Mas a decisão do governante pode ter consequências desagradáveis para ele, como Vanda Felbab-Marrón, pesquisador sênior do Programa de Política Externa do Centro de Segurança e Inteligência do Século 21 da Brookings Institution, uma das chamadas think tanks, aponta.
O especialista alertou nesta sexta-feira em artigo publicado no The New York Times, sobre uma possível guerra civil intensificada e sangrenta após a saída das tropas americanas do Afeganistão e, no mínimo, ‘a ascensão do Taleban ao poder formal trará dolorosas mudanças na administração política do país ‘.
No passado dia 5 de março, Biden apoiou a alteração das autorizações de uso da força militar (AUMF), poucos dias depois de as utilizar para ordenar um ataque aéreo contra a Síria no final de fevereiro, como já fizeram anteriormente em inúmeras ocasiões, dirigentes de ambos partidos, que usaram aquele texto legal como pretexto para realizar incursões armadas em vários teatros de operações.
A AUMF foi aprovada em 2002 e deu ao presidente luz verde para punir ‘aquelas nações, organizações ou indivíduos’ que ajudaram ou executaram os ataques de 11 de setembro, poder que ainda permanece em vigor.
Desde os primeiros meses do mandato de Donald Trump, o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa solicitaram, sem sucesso, ao Congresso que aprovasse uma nova legislação desse tipo que tornaria viáveis os planos belicistas do presidente, mas sem incluir restrições temporais ou geográficas.
No pano de fundo de todo esse debate sobre os poderes do chefe da Casa Branca para iniciar uma guerra, está a Resolução dos Poderes de Guerra, uma lei federal destinada a controlar os poderes do chefe do Salão Oval de comprometer o país de forma armada conflito sem o consentimento do Congresso.
O estatuto, que entrou em vigor em 7 de novembro de 1973, exige que o presidente notifique o Capitólio em 48 horas sobre o uso de grupos armados em um determinado conflito, proibindo essas unidades de permanecer nessas ações por mais de 60 dias, e prevê um período subsequente de um mês para a sua retirada.
As prerrogativas presidenciais, a alegada necessidade de sigilo e a relutância do Congresso em se organizar para receber informações relacionadas às ‘hostilidades iminentes’ têm com frequência anulado a exigência de consultar os legisladores nos últimos tempos.
No entanto, alertam os especialistas, a legislação sobre esse assunto tornou-se letra morta ou foi propositalmente ignorada pelo poder executivo repetidamente nas últimas décadas.
Mas o que quase nunca vem à tona nos debates no Capitólio e na mídia norte-americana é que a observância de certas normas jurídicas típicas dos Estados Unidos, de forma alguma legitimam o uso do poder de guerra pela Casa Branca, porque em quase todos os casos, são realizados contra a vontade dos países afetados e das organizações internacionais, em particular as Nações Unidas.
mem/rgh/kl